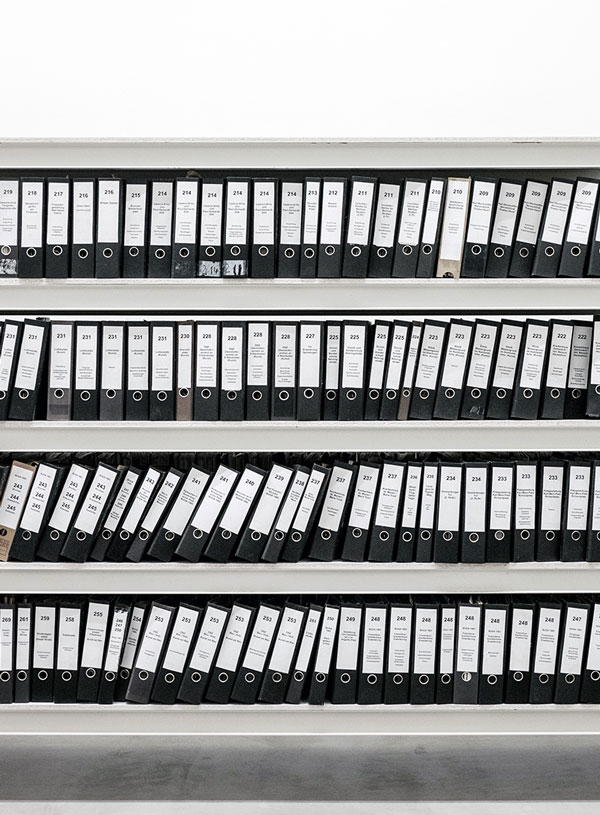Em 2017, a reforma trabalhista foi apresentada como solução a entraves econômicos. A promessa era direta: modernizar relações de trabalho, reduzir a insegurança jurídica e estimular geração de empregos. Entretanto, delegou-se ao Direito do Trabalho a responsabilidade por um problema essencialmente macroeconômico.
No processo, esqueceram-se de que reformas legais, principalmente trabalhistas, por si só, não geram crescimento econômico. Podem, no máximo, ajustar como as relações laborais se estruturam.
O que se viu, na prática, foi uma ampliação da precarização, com novas formas de contratação que flexibilizaram direitos, mas não reverteram o quadro de estagnação econômica, queda de produtividade e redução do poder de compra.
O diagnóstico foi jurídico, mas o problema é estrutural: baixa demanda agregada, concentração de renda, carga tributária desproporcional ao lucro real das empresas e ausência de políticas industriais robustas.
Dessa forma, criou-se uma falsa dicotomia: ou se flexibiliza, ou não se contrata. Porém, sem estímulo à produção, ao consumo e à formalização, nenhuma reforma legislativa, por melhor que seja sua redação, será capaz de reverter esse quadro.
Na realidade, o modelo tradicional de trabalho, firmado sob a CLT, vem perdendo atratividade. Isso ocorre, principalmente, porque ele não oferece a contrapartida mínima a uma geração que valoriza liberdade, tempo e qualidade de vida. Imposição de jornadas fixas, deslocamentos longos e remunerações incompatíveis com o custo de vida, especialmente nas grandes cidades, faz com que cada vez mais trabalhadores optem por formas alternativas de sustento.
[…]